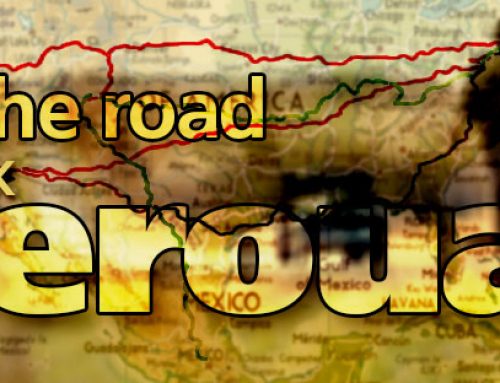Os coletivos de arte fazem contraponto ao egocentrismo da sociedade capitalista e deixam a marca transformadora do trabalho cooperativo.
Deixe de lado a imagem do artista concentrado, quieto e isolado em seu ateliê. Esqueça o traço pessoal marcante, o estilo estético definido. E, na hora de assinar, o nome do indivíduo sai de cena e dá espaço para aquele que foi escolhido por um grupo de pessoas. Este é um breve perfil dos coletivos, movimento cada vez mais comum no universo da arte contemporânea, da fotografia, da comunicação, entre outras expressões e linguagens.
Os objetivos dos grupos podem transitar pelas mais diversas frentes, da exploração máxima do potencial criativo ao ativismo social, mas, ao se reunirem dentro de estruturas coletivas, os criadores se apropriam do antigo conceito da “união faz a força” ao mesmo tempo que aproveitam todos os benefícios da nova cultura colaborativa propagada pela internet. Como resultado, conseguem projetar suas experiências inovadoras em um espectro muito mais abrangente.
Há 12 anos, um grupo de arquitetos recémformados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/ USP) decidiu alugar uma casa no Morro do Querosene, na capital paulista, e criar um ateliê. A casa estava localizada na rua Bijari e o endereço acabou batizando aquele que se tornaria um dos coletivos mais atuantes e resistentes de São Paulo. O grupo, composto por nove pessoas, teve poucas baixas e alterações ao longo de sua história, construiu um portfólio de peso e, mais de uma década depois, continua dividindo uma casa e criando de forma conjunta.
Desde que percebeu a força de sua identidade coletiva, o Bijari abriu mão da assinatura individual e todos os trabalhos levam a marca do grupo formado por Eduardo Fernandes, Frederico Ming, Flávio Araújo, Gustavo Godoy, Geandre Tomazoni, Maurício Brandão, Olavo Ekman, Sandro Akel e Rodrigo Araújo. Dada a formação de arquitetos, o Bijari tem na cidade, na ocupação do espaço urbano, a força que sustenta o seu trabalho, desenvolvendo projetos em diversos suportes e tecnologias. Entre as realizações estão intervenções urbanas, performances, instalações, vídeo-arte e design, criações premiadas que já puderam ser vistas tanto no Brasil como no exterior, em eventos como a Bienal de Havana, a Bienal do Mercosul e a de Ushuaia. “Não posso dizer que desenvolvemos uma fórmula, mas hoje atuamos com um tripé nos quais vemos os trabalhos a partir de um triângulo composto pelo caráter de urgência, pela forma e pelo local de atuação. Vamos nessa linha de quebrar com o cotidiano e buscar a reverberação”, conta Gustavo Godoy, um dos integrantes do grupo.
Esse impacto no cotidiano pode ser visto em trabalhos como o “Sala Paulista”, realizado dentro de um projeto do Itaú Cultural. O Bijari montou uma sala de estar em plena Avenida Paulista, com o objetivo de provocar a discussão da ocupação do espaço público. Outra experiência marcante foi a intervenção na ocupação do edifício Prestes Maia, no centro de São Paulo, quando balões de ar com a palavra “Lar” foram distribuídos e números foram dados para os ocupantes para que eles pudesse ter um endereço. O modelo chegou também à França e uma intervenção foi feita no bairro de Vitry, comunidade onde vivem somente imigrantes.
INTERDISCIPLINAR
Um pouco antes de o Bijari dar os seus primeiros passos, no Rio de Janeiro um trio de artistas amigos decidiu aceitar um convite do poeta Chacal para uma participação em seu consagrado Centro de Experimentação Poética, o CEP 20.000. Para lá foram Barrão, Luiz Zerbini e Sergio Mekler, que gostaram da experiência e criaram o Chelpa Ferro. No coletivo de arte contemporânea, os artistas passaram a desenvolver um importante trabalho de caráter interdisciplinar, que incorpora artes plásticas, música, performance, vídeo e experimentação das mais diversas tecnologias e materiais. Com o tempo, conseguiram prestígio como coletivo e já figuraram em exposições importantes, como as bienais de arte de Veneza, São Paulo, Havana e Liverpool. Materiais descartados, móveis, sobras, retalhos unem-se a luzes, caixas de som e cabos para dar origem às obras do grupo, que, além de uma intensa agenda de exposições, tem discos gravados e faz shows nada convencionais. “Originalmente não somos músicos, mas posso dizer que nos tornamos músicos. Não temos uma atitude propriamente musical, trabalhamos o som, este é um forte elemento do nosso trabalho”, explica o artista plástico Luiz Zerbini. Uma destas experimentações sonoras e sensoriais do Chelpa Ferro é o Totoro, projeto que foi especialmente criado para o espaço do Octógono, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A obra proporcionou uma ocupação sonora do espaço ao mesmo tempo que os elementos tomavam o corpo de uma escultura. A estrutura complexa criada pelo grupo se articulava por um sistema de roldanas, dotada de um motor previamente programado, um conjunto de caixas de som, que sobe e desce, desaparecendo, de tempo em tempo, em um tubo de madeira no centro da sala. “Entendemos por coletivo também trabalhos como este, que não seriam viabilizados individualmente”.
FOTOGRAFIA
Embora aparentemente uma atividade solitária e individual, até a fotografia também acabou se tornando uma linguagem abraçada por um coletivo: o Garapa, de São Paulo. O grupo resolveu aproveitar a oportunidade de expansão criada pelo “coletivismo” para fotografar indo além da câmera fotográfica. Embora a foto seja ainda o grande elemento estético do trabalho do grupo de Leo Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo Marcondes, os garapeiros ainda não sabem se o que fazem é multimídia, hipermídia, audioslideshow, novo documentarismo, e, avessos a rótulos, dizem que querem documentar juntos e aproveitar todos os espaços oferecidos pela internet, criando em qualquer plataforma.
Recentemente, eles estiveram em Cuba (www.garapa.org/desdecuba), para registrar o cotidiano do país e, se antigamente como fotojornalistas de jornais como a Folha de S. Paulo, saíam à rua tendo em vista a necessidade de trazer boas fotos, hoje, juntos coletam boas histórias. Todos fotografam, filmam, entrevistam e editam um material colaborativo e mais abrangente. “No trabalho multimídia, assinamos como coletivo. O interessante é que, inserido em um grupo, o processo crítico nunca se perde. Existe um estado de atenção pleno e uma auto avaliação coletiva”, conta o garapeiro Paulo Fehlauer. No Nordeste, dentro do caldeirão efervescente da cultura pernambucana, a criação coletiva é uma longa tradição e o Branco do Olho, criado em 2004, por estudantes de artes plásticas da Universidade Federal de Recife (UFPE), se firma como um espaço de investigação e convivência entre pessoas, não só entre os membros do grupo, mas também com a comunidade e outros artistas.
Além das várias exposições, o Branco do Olho intensifica a agenda cultural pernambucana com noites performáticas, mostras de vídeo, festas e, mais recentemente, passou a abrir sua sede, no centro de Recife, para o Projeto de Residência, no qual artistas de outras localidades interagem com a cidade e criadores locais. Dessa forma, o convidado deixa suas marcas nas pessoas, nas ruas e também recebe impressões e interferências no seu trabalho, tudo coletivamente. “Ainda que algumas de nossas exposições possam levar o nome de apenas um dos artistas, nós discutimos muito, concebemos as idéias em conjunto e os trabalhos ocorrem dentro dessa órbita”, explica João Monteiro Feliciano, um dos integrantes.
Há pouco mais de um ano, o coletivo Couveflor, criado em 2003, abriu seu próprio espaço, batizado de Cafofo. O grupo curitibano utiliza o local para reunir criações e artistas de Curitiba e de outros lugares do Brasil, o que aproximou o coletivo da cidade e permitiu que alguém passando na rua, por exemplo, decida entrar para ver um ensaio, perguntar o que acontece ali e interagir. “As experiências vão mudando, temos projetos fora do grupo, mas estamos sempre em contato, apostando nesse ideal de criar arte em colaboração, contribuindo para a construção de uma comunidade artística que realmente coopera”, conta Gustavo Bittencourt, lembrando que o movimento coletivo pode ser justamente um contraponto a uma sociedade cada vez mais voltada para a competição.
COTINUIDADE
Na esteira de grupos mais experientes, essa tendência deve permanecer por muito tempo. Há cerca de um ano, nasceu um novo grupo, chamado PIU (Pequenas Intervenções Urbanas), de São Paulo, com a proposta de mudar a relação das pessoas com a cidade a partir de pequenos feitos, ações, que podem ser perenes ou existentes em um curto período. Formado por nove mulheres de profissões distintas, o grupo decidiu que queria fazer algo para promover uma reflexão a respeito da vida na cidade e transformar a calçada, por exemplo, por um breve instante, em palco. Atualmente, o coletivo está finalizando ainda sua primeira intervenção. “Nesse tempo de formação do grupo, percebi que encontro a liberdade de sentir minha tristeza e a força de minha alegria subjetiva no espaço da reflexão coletiva”, sintetiza Marina Bastos, uma das integrantes do grupo, inspirada na psicanalista Suely Rolnik, que participou de um dos encontros de pesquisa promovidos pelo grupo.©
__________________________________
Texto publicado originalmente na Revista da Cultura, com o título:
Todos por um. Por Giedre Moura.